Minha filha Anne, de cinco anos, tem uma pelúcia favorita que arrasta por todos os lugares: pela cama, pelo sofá, pelo shopping, pela casa dos avós e até nas terapias. A fofura se chama Macacau, uma macaquinha simpática que usa um vestidinho fofo rosa pink na parte superior e uma saia rodada florida na parte inferior, ela carrega um lacinho, também pink, num chumacinho de cabelo entre orelhas, no topinho da cabeça (e agora, um rosto todo maquiado de canetinhas coloridas).
Na infância, esse tipo de vínculo com um objeto de apego é comum e cumpre uma função emocional importante. Eles oferecem conforto, segurança e previsibilidade num mundo que ainda é novo e cheio de descobertas. Ajudam as crianças na transição entre a dependência total dos pais e o desenvolvimento da autonomia emocional. Assim, a Macacau, para a Anne, é um pedacinho do aconchego de casa onde quer que ela vá.
O problema é quando esse apego ao artificial persiste até a vida adulta.
Se você foi uma criança dos anos 90, assim como eu, deve lembrar ao menos vagamente da primeira edição do Big Brother Brasil, que estreou em janeiro de 2002, num mundo onde a TV praticamente monopolizava a mídia. Entre todos os brothers, havia um menosprezado pelo grupo: Kleber Bambam. Sofrendo os impactos emocionais do confinamento e do isolamento dentro da casa, ele criou a sua própria companhia, transformou um cabo de vassoura num objeto de apego. Deu-lhe o nome de Maria Eugênia e, aos poucos, criou-lhe um rosto, cabelos, chapéu e até curvas mais femininas. Esta imagem vulnerável e infantilizada dele, fez com que o público se compadecesse e o ajudasse a vencer o programa (save the cat1 vibes). Passar por uma situação extrema o fez adotar esse comportamento, mas (felizmente), assim que terminou o confinamento, tudo voltou ao normal e Maria Eugênia voltou a cumprir sua vocação de ser apenas um cabo de vassoura.
Na ficção, temos outro exemplo no filme O Náufrago (Cast Away, 2000 dirigido por Robert Zemeckis, com a brilhante atuação de Tom Hanks no papel de Chuck Noland), onde um homem que após um acidente de avião cai numa ilha deserta e encontra, entre os escombros, uma bola de vôlei da marca Wilson. Com o passar do tempo, e à medida que o isolamento se intensifica, Wilson ganhou rosto e o apego do personagem. E ali nascia uma cena clássica do cinema: Wilsoooooooon.
Quando Chuck perde o objeto de apego, cria um paralelo com o que vive uma criança, ele sai do estado de dependência emocional para a maturidade. Tanto que na história, após essa cena, ele é resgatado e volta para o mundo real onde uma bola é uma só bola.
Na vida real, nem todo mundo consegue soltar o Wilson.
Não importa muito de onde essa moda veio, a questão é que a bolha das tias dos bebês reborn explodiu. E, só se você sumiu nas últimas semanas para voltar como a pessoa mais inteligente da sala2, você não viu as notícias de gente levando boneco no pediatra, criando curso de banho para bonecas, e até abrindo processos pedindo pensão e uma patacoada sem fim nem meio no olho do furacão da internet (se alguma delas é verdade, eu não sei, a internet me faz duvidar do que o meu olho vê).
Eu não estou aqui para julgar os afetos, mas como mercadóloga3 por escolha, me sinto intrigada a observar comportamentos. E o esse cenário aponta para uma geração de pessoas em situação de fragilidade emocional, dificuldade de amadurecer (superar fases) ou de ausência de bom senso por atenção. Dar foco para essa pauta é reforçar esse comportamento e valorizar a dependência emocional.
Mas o que mais me assusta é que estamos vendo quem normalize o fingimento como lifestyle.
A mãe reborn finge que o boneco é gente.
A influencer finge que é burra e não sabe dos danos das apostas no Brasil.
A gente finge que é normal um pacote café Melita sair mais caro que um pacote Orfeu e dois pacotes de Coffee++ juntos.
A gente usa alguns prompts e finge que escreveu o texto.
Começamos a viver uma era que simula a vida e os processos. E, claro, não seria diferente na escrita.
Assim como um bebê reborn parece, mas não é, o uso excessivo da inteligência artificial é um indício nada sutil de que está nos faltando a própria inteligência.
Não me surpreende, queremos o atalho: a canetinha que emagrece, a loção que traz o cabelo de volta já fazendo trança boxeadora, a namorada de IA que nunca diz não, a lasanha congelada com gosto de domingo em família. Quem vive no ritmo de São Paulo, como eu, entende que às vezes, a praticidade salva. O problema é quando a gente começa a acreditar que pode substituir o processo pelo produto, afinal, substituir o simbólico pelo real não é só falta de maturidade, é um convite para morar de vez no subsolo da mediocridade.
Porque quando você entrega sua vocação (não só uma tarefa do trabalho) para uma IA executar, você não está economizando tempo. Está economizando cérebro.
Você finge que está lapidando a sua habilidade de pensar e se expressar através da escrita (ou do desenho, da colagem, seja qual for a sua arte), mas no fundo está treinando para virar um redator de prompts. E tudo bem se você se contenta com isso, mas eu, não. Eu quero ser de verdade.
Eu quero ser mais inteligente.
Pensar com mais clareza.
Escrever melhor.
Quero deixar o Wilson ser só uma bola, não divulgar tigrinhos ou qualquer outro bicho e ser responsável por amadurecer e bancar as minhas escolhas — na vida e no texto.
Afinal, escrever é escolher.
E escolher é um privilégio da maturidade.
Você pode não ter um bebê reborn, entretanto, precisa tomar cuidado para não se esconder numa vida simulada, se apoiando no parecer e esquecendo de viver os processos para ser.

Um abraço e até a próxima trama;
Samy.
Gostou dessa newsletter? Me responda esse e-mail contando se temos algum motivo em comum, ou deixe um comentários com as suas impressões. Conto com você para nos encontrarmos no texto.
➔ Escrevi esse texto ao som dessa música e dessa aqui.
➔ Vou abrir meu Clube de escrita: Narrativas Criativas e dar uma aula gratuita dia 29/05- 20h, para participar toque aqui.
Save the cat vibes: a técnica clássica de storytelling em que o protagonista realiza uma ação simpática, como salvar um gato, logo no início da história. Isso cria empatia imediata com o público, tornando o personagem mais cativante, mesmo que ele cometa erros mais adiante. A expressão vem do livro Save the Cat! de Blake Snyder, um guia muito usado por roteiristas de Hollywood (embora eu não recomende o livro, acho muito superficial).
Copy muito copiada pelos gurus do digital "Suma. E volte como a pessoa mais inteligente da sala."nas minhas pesquisas não encontrei a campanha de origem.
Pessoa formada em marketing é mercadólogo e não marketeiro (pasme!).


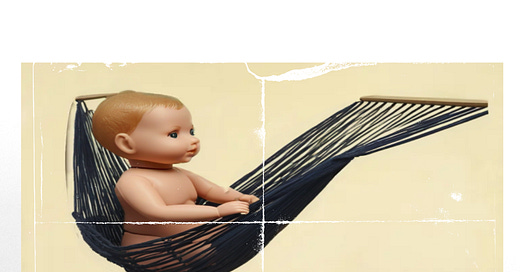







O texto inteiro é um lembrete desconfortável (e necessário) de que atalho não é sinônimo de evolução — é, muitas vezes, a fantasia do processo sem o processo.
O risco não tá na IA. Tá no dia em que a gente se convence de que parecer fazer já é o mesmo que fazer. E de que parecer ser já basta pra ser.
Parabéns, Samy. Esse texto é um serviço de utilidade pública pra quem ainda acha que inteligência artificial substitui inteligência humana.
Quando a artificialidade se torna regra, e ela vem se tornando, é o orgânico que fará a diferença necessária apesar de sútil.
Apesar de que a sociedade vem, aos poucos, tornando-se mais sintética, mais artificial.
Seu texto é um lembrete de que podemos usar o sintético, desde que ele não substitua o orgânico. Podemos ter nossas imaginações, desde que não ignoremos a realidade.
Obrigado Samy.